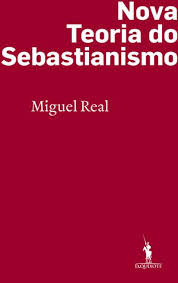SILÊNCIO E
MARGINALIDADE NA POESIA DE GRAÇA PIRES
Victor Oliveira Mateus
O novo livro de Graça Pires, Uma claridade que cega, afirma-se fundamentalmente como uma
procura: “eu procuro de novo/ o princípio de tudo,” (p.10); “na marginalidade
do sossego/ reacendo o lume…” (p.12); “escuto até à exaustão/ os rumores de um
tempo mais remoto” (p.14). Vemos, portanto, que são específicas desta aventura
poética três instâncias fundamentais: o sossego – muitas vezes aparecendo sob
outras formas, como por exemplo a do silêncio -; a marginalidade, entendida
esta não como uma vivência ostensivamente burguesa e urbana, mas tão-só como a
rejeição de uma norma que impede a busca dessa claridade absoluta, fundamento
do Ser e da escuta poética: “sou da estirpe dos aventureiros, dos caminhantes,
dos fugitivos.” (p.30); “fujo na crina de um potro livre,/ sem jugo, em veloz
cavalgada.” (p.40) e, finalmente, o alvo desta mesma procura metamorfoseado
este na imagem da “fonte mais remota,/ onde a água tem o sabor/ do leite
materno” (p.60). Esta associação sossego/silêncio, procura pela margem e
propensão para a fonte originária ou, como neste livro se apresenta, para essa claridade que cega , tem sido uma
constante na poética de Graça Pires: “nómada na noite, entro no coração do
texto,/ para dizer o exílio nos olhos de Ulisses.” (in Uma certa forma de errância, 2003, p.43); “Um saber de dialectos
nocturnos,/ permite-me riscar nos pulsos um silêncio de fuga.” (op. cit. p.51);
“seguimos pela noite indiferentes/ a todos os ruídos que rebentam/ o rigor do
silêncio.” (in Uma vara de medir o sol, 2012,
p.69).
Vemos também que esta procura é não só uma
inquirição em torno do princípio originário, dessa claridade primeira, como também um trabalho em torno da palavra
para que dela seja removida toda a ganga do ruído e da inautenticidade:
“NOME:-
Interpelamos as palavras à procura de um nome para a casa
onde moramos. Um nome que se ajuste inteiro à memória
do olhar e do silêncio. Um nome tão secreto como as canti-
gas que as mães cantam baixinho enquanto embalam nos
braços os filhos e a noite para não perderem o poder de
repartir a sede.”
(in Caderno de Significados,
2013, p.21)
E a este almejar de uma claridade
que cega, ou seja, desta beleza terrível, não é alheia a poesia de Rilke
logo anunciada no quarto poema deste livro. Vejamos o que diz o poeta alemão:
“(…). Pois o belo apenas é
o começo do terrível, que só a custo o podemos suportar,
e se tanto o admiramos é porque ele, impassível, desdenha
destruir-nos. Todo o Anjo é terrível.”
(“A Primeira Elegia” in As
Elegias de Duíno, Assirio & Alvim, 2002, p.39)
“Todo o Anjo é terrível. No entanto, ai de mim!
Pelo canto vos invoco, aves da alma quase mortais,
por saber o que sois. Para onde foram os dias de Tobias,
quando um de entre os mais luminosos apareceu, no simples limiar da
entrada
(…)
Porém nós, ao sentir, desvanecemo-nos. Ai de nós,
ao respirar nos extinguimos; de brasido em brasido
vamos perdendo o nosso aroma. (…)”
(“A Segunda Elegia” in As
Elegias de Duíno, Assírio & Alvim, 2002, p.47)
Esta antinomia Anjo/terribilidade, claridade/fulminação do olhar na autora, alarga-a Graça Pires à presença de
outros autores nomeadamente de Virgínia Woolf de quem a poeta diz, em dois
versos que validam esta minha linha de leitura: “ As múltiplas faces da vida e
da morte/ em diálogo secreto.” ( In Uma
claridade que cega, 2015, p 35). Há ainda uma outra convergência com a
romancista inglesa: em Mrs Dalloway ,
Clarissa Dalloway interroga-se frequentemente sobre o seu passado, o seu
presente e o futuro, ora estas dimensões da temporalidade trespassam todo o
livro de Graça Pires, aliás, este jogar no tempo é frequente em Virgínia woolf,
veja-se, por exemplo, outro romance seu:
Orlando , que, baseado na vida de Vita Sackville-West, narra a história de
um jovem que certo dia acorda mulher e dotado de imortalidade, Orlando acompanha mais de três séculos
da vida dessa personagem. Vemos, por conseguinte, que Clarissa Dalloway ( o
livro narra apenas um dia da sua
vida) vive entre a felicidade e a ideia de suicídio, Orlando entre a
imortalidade e o efêmero rotineiro, ou seja, ambos desenham a sua errância
entre um polo positivo e outro negativo, tal como este livro de Graça Pires
entre a claridade e a cegueira. Não é despiciendo enfatizar também aqui a riqueza imagística das autoras:
a de Virgínia Woolf deu azo a riquíssimas obras de arte, como por exemplo o
romance As Horas de Michael
Cunningham, que, por sua vez originou o filme homónimo (2002) de Stephen Daldry
com as soberbas interpretações de Maryl Streep, Nicole Kidman e Julianne Moore
e ainda a película Orlando (1992) de
Sally Potter com o andrógino desempenho de Tilda Swinton. Já as imagens da
poesia de Graça Pires, com a sua sobrevalorização do telúrico e/ou do aquífero,
bem como o chamar à liça do afetivo e do emocional, entroncando, portanto, em
Pascoaes, Torga, Sophia, Nuno Júdice e
algum Ruy Belo, mas recusando as
escritas mais debruçadas sobre as vivências citadinas, corre o risco de – com
as suas águas, as suas gaivotas, as suas estevas, a sua urze, etc. - , numa
leitura apressada, serem remetidas para um filo passadista, todavia, uma
leitura cuidada desta escrita verificará que o que existe é todo um paradigma
de referentes ao serviço de intentos outros – exemplo: falar-se do
envelhecimento em Outono: Lugar Frágil (1994), dessa Odisseia que é o estar-aqui em Uma certa forma de errância ( 2003), da
falsa oposição que existe entre o trabalho braçal e doméstico relativamente ao
aperfeiçoamento moral e religioso em não
sabia que a noite podia incendiar-se nos meus olhos (2007), etc. Um
terceiro, e último, diálogo que Graça Pires mantém é com Pablo Neruda: “Hoje,
que não escuto o mar/ fujo na crina de um potro livre,/ sem jugo, em veloz cavalgada.
Tenho nos olhos um incêndio tangível(…)/ Doeu-me a voz quando bradei,/ sem
fôlego, o verso de neruda:/ quero
inventar o mar de cada dia.” , a abordagem da realidade material, do sócio-económico, na poesia de Graça Pires
é sempre feita de forma subtil, mas, paradoxalmente, forte: “Há por todo o lado
palcos improvisados/ onde, em bocas distorcidas, se anunciam/ perigos e
presságios, ameaças e avisos./ Este é um país de sombras tão baldias que magoa.
“ (p28): “ Cravo as unhas na carne da indiferença./ Escrevo sangue/ com o lápis gasto pela culpa
acorrentada/ à cegueira que desfoca os olhares/(…)/ Leio dor. Dolorosamente./ Em lugares desabrigados,/ em portas
franqueadas aos rasgões/ da vida rondada pela morte.” (p 33), não estamos –
nestes versos – longe de tantos poemas de Nazim Hikmet ou do Canto Geral de Neruda, onde podemos ler:
“Mas tu não sofreste? Não, eu não sofri. Eu sofro/ apenas os sofrimentos do meu
povo. Eu vivo/ dentro, no interior da minha pátria, célula/ do seu infinito e
abrasado sangue. “ ( In Canto Geral,
Campo das Letras, 1998, p 480, tradução de Albano Martins).
O presente livro de Graça Pires
ousa ainda três áreas estreitamente conectadas com tudo aquilo de que tenho
vindo a falar: o plano do existencial e do dia-a-dia, o da inquirição da palavra
e da poesia e, finalmente, um plano metafísico onde a esperança e o sonho teem
um papel fundamental. Acerca desse primeiro plano leia-se o poema da página 39
da presente obra:
Só folheio os jornais de vez em quando.
Quase tudo o que se escreve
são golpes confusos
que abrem nas entranhas a impressão
de um mundo por entender.
A verdade chega-nos apenas
através do silêncio dos que sonharam
um tempo sem estas ruínas
que descarnam e sepultam
a mais valiosa esperança.
Este poema ilustra na perfeição o que temos vindo a dizer: primeiro,
estabelece a distinção entre aparências (golpes confusos, mundo por entender) e
a busca da verdade, isto é, da claridade
que cega ; segundo, reafirma a importância do silêncio e do sonho para bem
entender e agir, convém, no entanto, acrescentar que o sonho nunca é, na poesia
de Graça Pires, sinónimo de devaneio ou alienação, ele surge sempre ou como
capacidade da memória ao serviço da rememoração e do conhecer ou – como aqui –
como rasgo da imaginação que alimenta a praxis
; terceiro, a recusa da poeta em integrar o coro das ruínas , em integrar o
número daqueles que descarnam a esperança e a ousadia, daí o já referido
colocar-se à margem da voracidade da turbamulta, daí também o termo marginalidade que usei no título deste
texto ; quarto e último, a distinção acenada no sexto verso: a Graça Pires não
interessam as certezas tão operativas e eficazes nas ciências e tão
úteis nos registos de tipo jornalístico, à autora importa a verdade , dito de outro modo: os seus
olhares antropológico e histórico aparecem sempre alicerçados numa visão ética,
assim como o sociológico se curva ante o metafísico, numa frontal recusa do
injusto e do mal, entendido este no seu sentido radical: “Este mal é radical, a
partir do momento em que corrompe o fundamento de todas as máximas (morais).”
(Kant, In A Religião dentro dos Limites
da Simples Razão , Ak.Ausg., VI). Por tudo isto, competirá à Palavra, ou
melhor, à Poesia, conduzir-nos neste caminho iluminante, competirá a ela
assumir-se plenamente como Uma claridade
que cega.
O verbo: clareira em cama de fenos
ou ilha oculta de ocultos silêncios.
Como se o nervo do vento
fustigasse a voz dos poetas
esmagando a rigidez dos sons.
Apta a declinar as regras do jogo
retenho, nas arestas da página,
o som do lápis, como um pião
rodopiando traços inseguros.
A película de imagens no interior do texto,
levemente aberto ao segredo das mãos
deixa que me habite um desvario
que faça regressar um verso invisível.
( In Uma claridade que cega, p 43)
Livraria Ferin - Lisboa, 28 de novembro de 2015.
.
.
.